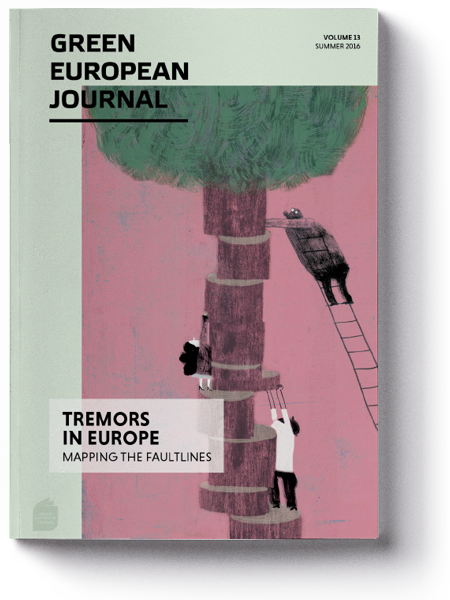Há quinze anos, quase todos os cidadãos europeus falavam de maneira positiva do projeto europeu, visto como a junção de três promessas: prosperidade partilhada, direitos fundamentais e democracias sustentáveis. Mas sabíamos que ao perder uma, as outras se seguiriam: depois da crise da Eurozone, está a surgir a crise social e a crise dos direitos fundamentais.
Será a Finlândia um país periférico da União Europeia? Sim. Já ouviu falar da Finlândia como sendo um país periférico da União Europeia? Provavelmente não.
A periferia é, no mínimo, tanto uma construção cultural e política quanto um problema geográfico. Estar na periferia não tem necessariamente que ver com uma localização na extremidade de um território; prende-se mais com o facto de não ter o poder de se proclamar «no centro». Em muitos aspetos, o centro e a periferia são definidos não só pelas suas definições, mas por aqueles que os definem. Nos Estados Unidos, são os extremos do continente – as costas leste e oeste – que designam tudo o que estiver entre eles como «fly-over country», «o país que se sobrevoa», como se essa parte habitada da nação fosse de tal modo isenta de poder cultural ou de importância que não merecesse outro nome ou sequer ser nomeada. Na União Europeia, a questão do centro e da periferia parece simples à primeira vista, com o «centro» situado mesmo no centro do continente e as periferias nas extremidades. Será mesmo?
Como mostra o exemplo da Finlândia, a utilização da palavra «periferia» na linguagem da União Europeia, e especialmente em relação à Eurozone, depende essencialmente do poder económico do país, que se traduz depois na capacidade de estabelecer, política e mediaticamente, uma agenda. A palavra «periferia» tem sido usada para designar as economias da Eurozone que têm ficado atrás das grandes máquinas da Europa «central», como a Alemanha, quer em termos de resultados económicos, quer em termos de convergência em relação aos objetivos da União Económica e Monetária. O uso da palavra, aparentemente inofensiva e tecnicamente correta, contém pressupostos de hierarquia, de falta de preparação e até de submissão. É assim que, com uma nova definição adquirida sem sequer termos dado por isso, a periferia começou a adquirir diferentes usos e significados. Há periferias políticas e há periferias económicas. Do ponto de vista político, as periferias situam-se mais a Leste, enquanto as periferias económicas mais a Sul. Por vezes, as duas noções confundem-se, quando existe uma recessão ou acontece uma eleição com resultados diferentes dos planeados pelo «centro». Nos bastidores, quase que dá para ouvir a irritação com que a palavra é pronunciada: uma periferia é aquilo que traz problemas ao centro. Mas donde vêm estas dificuldades, e será a desintegração europeia a sua inevitável consequência?
Nos últimos anos, assistimos a uma clara viragem na linguagem europeia: das designações pejorativas referentes a certos países – os PIIGS [1] ou os «filhos problemáticos» da Europa – à sugestão de divisão da Eurozone em duas partes com unidades monetárias distintas – uma para os Estados membros mais fracos e outra para os mais fortes. Não é de admirar que até as naturezas mais euro-entusiastas estejam a ficar preocupadas com o futuro da União.
Os anos 90 foram anos de entusiasmo, em que se falava do fim da história e da supremacia das democracias de mercado livre. Para trás ficavam o tempo em que o continente estava dividido em blocos; mais esquecida ainda a atribuição de um termo médico, antes da Primeira Guerra mundial, para designar os países problemáticos do continente, descritos como os «homens doentes da Europa». A Turquia já foi o «homem doente da Europa», mas também a Alemanha e a França.
A palavra «periferia» parece, assim, muito suave em relação a outras terminologias alternativas. Quando a crise da Eurozone eclodiu no início dos anos 2010, o acrónimo na moda era PIIGS; simplesmente um acrónimo, arranjado de maneira a dar-lhe uma conotação altamente desumana. A Paul Krugman, Prémio Nobel de Economia, não escaparam as consequências involuntárias (pois, felizmente, eram involuntárias) da designação, levando-o a propor um novo arranjo, os «GIPSIs», que – para os ouvidos já muito desconfiados – substituía as conotações desumanas por evocações de minorias étnicas perseguidas e comunidades banidas. Encontramos outro exemplo de expressão supostamente bem-intencionada com sonoridade paternalista no uso de «filho(s) problemático(s)» para se referir aos países periféricos. Hoje em dia, como escreveu um jornalista económico, «Portugal endividado continua a ser o filho problemático da Eurozone (…) os níveis de dívida asfixiantes, a queda do mercado do emprego e os maus empréstimos continuam a infestar a sua economia um ano depois do fim do programa de resgate, alerta o FMI [2]». A mesma linguagem foi usada para descrever Espanha e Itália. E se o cidadão comum não lê os relatórios do FMI, nem as notícias oficiais ou os artigos de opinião da elite europeia, os media tratam de sublinhar esses termos, que têm um forte impacto na opinião pública. No entanto, neste último caso, a expressão depreciativa pode ser, de alguma maneira, esclarecedora: pois é comum esquecermo-nos de que os filhos problemáticos não surgem do nada, mas são muitas vezes o resultado de um problema na educação dada pelos adultos. Se quisermos ver a EU como um caso particularmente caótico de família disfuncional, talvez essa metáfora nos impeça de «tratar» um ou dois membros da família pondo-o de lado.
Resumindo, a noção de periferia no debate europeu atual prende-se muito mais com determinações políticas e económicas do que com um simples conceito geográfico. Traz uma ideia de hierarquia entre os países, em que há bons e maus alunos (outra metáfora comum): essa retórica de infantilização persistente acentua tensões que poderão acabar por ser forças de desintegração do projeto europeu, supostamente assente em princípios de solidariedade, igualdade e coesão entre os Estados-membros. Mas, de facto, como construir um projeto europeu quando alguns Estados-membros são acusados de serem preguiçosos e alvos de desdém, e os outros etiquetados como sendo arrogantes, dominadores e autoritários?
Surgem assim discursos nacionalistas dos dois lados, à custa de um projeto inspirado, acima de tudo, pelo desejo de ultrapassar os interesses nacionais. E esses sentimentos nacionalistas não acontecem apenas entre políticos europeus ou cidadãos contra outro Estado-membro, mas também entre todos em relação ao projeto europeu e «Bruxelas, a diabólica», que reprime as soberanias nacionais.
Já quase todos os governos nacionais dominam a arte de desviar as culpas e a responsabilidade para outros, e para as instituições europeias, ou até para o próprio projeto europeu. Em parte, é uma estratégia bastante eficaz para responder ao princípio exclusivista que se esconde atrás do uso da divisão entre o centro e a periferia. Se a metáfora espacial sublinha a distância entre os países centrais e os outros Estados-membros, facilmente descartáveis, também não deixa de sublinhar a conclusão a que muitos cidadãos europeus chegaram: a UE é injusta, inútil e elitista. Quando, em alturas melhores, a especificidade elitista já constituía uma preocupação, pelo menos justificava-se que o objetivo final da natureza vanguardista da vida europeia era dar uma vida melhor a todos: mais coesão, mais convergência social e económica, melhores padrões de vida em toda a UE. Se o projeto não se construiu numa visão de baixo para cima, tinha, contudo, o que alguns economistas chamam de «legitimidade dos fins».
Os problemas surgem quando a falta de legitimidade democrática se torna cada vez menos sustentável e tolerável, porque se deixou de apelar à «legitimidade dos fins»: sem qualquer dúvida, as decisões são tomadas sem nós, e basta a um chefe de Estado ou de Governo apresentar esse argumento cada vez que o seu governo se encontrar de mãos atadas, no intuito de se desembaraçar de uma situação política doméstica complicada, para alimentar os nacionalismos e euroceticismos. E esta situação é de tal modo frequente que a população da UE se convence cada vez mais de que o projeto europeu é não só uma ideia dirigida por um pensamento elitista, mas também, ainda pior, um projeto das elites, feito pelas elites e para as elites. Para resumir, existe a crença de que não há nada neste projeto para o homem comum. Por isso, os discursos nacionalistas e eurocéticos ganham terreno por toda a União Europeia, mesmo entre os cidadãos mais progressistas, os formadores de opinião e políticos: aproveitam-se dos sentimentos de exclusão ou discriminação para construir um muro entre o «nós» e os «outros» e aprofundar o fosso existente entre o «centro» económico e político e todo o resto. A desintegração europeia tem lugar não apenas nos países periféricos, em reação a esse centro autoritário, injusto e desdenhoso, mas também encontra a sua expressão nesses países do centro que reagem fortemente contra a ideia transnacional e cosmopolita.
A depressão económica atual expôs as fraquezas políticas, institucionais e legislativas da União Europeia e põe em perigo todo o processo de integração europeia. Para construir na Europa – e no mundo – um ambiente sustentável para a democracia, os direitos humanos e uma prosperidade partilhada, precisamos de algo como uma reforma ideológica que reenquadre a economia, a globalização e as políticas transnacionais. Precisamos de argumentos positivos – em vez de ter apenas contra-argumentos. Precisamos de construir um património comum, em vez de disponibilizar às autoridades nacionais os fundos europeus como se fossem montantes forfetários ou cheques em branco. Deveríamos olhar para aquilo que funciona e fazê-lo crescer. Em vez de ficar pelo Programa Erasmus, a UE deveria construir universidades federais com localização nos países em crise, para lhes dar oportunidade de não lutar apenas contra a sua «fuga dos cérebros» mas de se tornarem as Silicon Valleys da Europa. Resumidamente, deveríamos aproveitar-nos dessas diferenças de um modo criativo para as superar da melhor maneira: unirmo-nos para agir melhor em vez de nos dividirmos para conquistar. Eis afinal o que deveria ser a integração europeia.
Há muito em jogo no debate europeu sobre o centro e a periferia, e muito mais do que a própria Europa. Em primeiro lugar, trata-se de saber se o maior e mais corajoso projeto de integração internacional da história da humanidade irá sobreviver. A Europa tem um péssimo cadastro no que se prende com experiências passadas de desintegração. A primeira era de globalização acabou com a Primeira Guerra mundial. A primeira experiência internacional, a Sociedade das Nações, acabou com a Segunda Guerra mundial, seguida depois pela desintegração da União Soviética. A Jugoslávia acabou num banho de sangue e limpeza étnica. Mesmo que desta vez as consequências não sejam tão más, as separações azedas do projeto europeu constituem um triste sinal para qualquer projeto de integração internacional no mundo.
Neste sentido, o destino do projeto europeu já carrega em si um profundo significado para o resto do mundo. Mas o debate europeu atual esconde também um ponto cego enorme: é como se, no sentido freudiano, os países do centro se «projetassem» na caraterização dos seus parceiros europeus enquanto periferias – receando tornarem-se por sua vez periferias. Pois, o que é a Europa senão um apêndice do grande supercontinente eurasiático? Ou se olharmos para sul em vez de para leste, o que é a Europa senão uma espécie de acento circunflexo no topo do muito maior continente africano, que tem uma população duas vezes maior do que a europeia e que poderá, ainda este século, tornar-se seis a dez vezes maior? Depois de séculos a dominar as redes de mercado mundiais e a colonizar continentes inteiros, a querela entre o centro e as periferias europeias revela uma profunda ansiedade em se tornarem irrelevantes no mundo de amanhã.
E é aí precisamente – para terminarmos com uma nota positiva – que a Europa, como um todo, pode aprender com as chamadas periferias: em vez de se resignarem a um papel secundário, as periferias encontraram muitas vezes uma margem de manobra muito maior do que se poderia suspeitar. Aproveitando-se da sua posição geográfica, da sua diáspora e da imaginação coletiva do seu povo, atraída pela abundância de possibilidades existentes no resto do mundo, as periferias construíram pontes por cima dos oceanos e misturaram-se nas cidades portuárias em todo o mundo. Apesar de a palavra ser habitualmente usada em relação às grandes metrópoles, poderíamos argumentar que as periferias são as primeiras criadoras do cosmopolitanismo. Esse sentimento de pertencer a uma cidadania global é algo que toda a UE deveria cultivar para sobreviver aos desafios de hoje e de amanhã.
Tudo isso seria mais simples se a UE, pelo menos de vez em quando, se deixasse também definir pelas suas periferias. Começando pela própria palavra. No seu sentido original em grego antigo (deixemos, ao menos aqui, a última palavra aos gregos, pode ser?), «periferia» designa a circunferência de um círculo ou a superfície de uma esfera – na Terra, a periferia é a camada por baixo da atmosfera. De facto, o planeta não tem ângulos, apêndices ou nenhuma espécie de ponta: não há periferia senão a superfície contínua do planeta. Para enfrentarmos os numerosos desafios, da mudança climática à situação dramática dos refugiados, às assimetrias da globalização, todos temos de aprender a ser periféricos – o que significa: cidadãos do mundo vivendo na superfície do planeta.
[1] Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha
[2] Mehreen Kahn, «Indebted Portugal is still the problem child of the Eurozone», Daily Telegraph, 6 de agosto de 2015